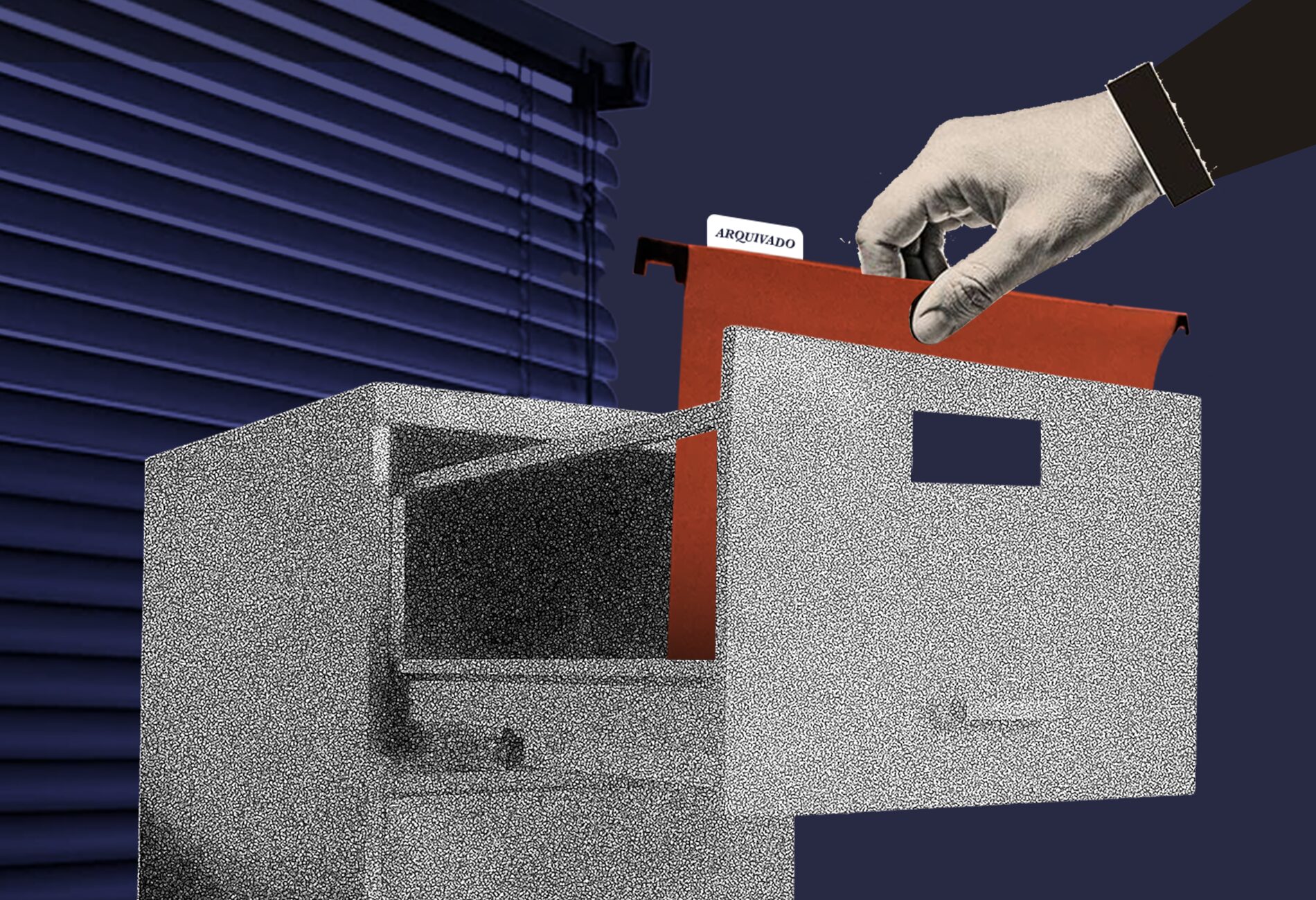Divergências entre laudos, depoimentos e testemunhos não são suficientes para motivar investigações e indiciamentos
Série “Pelo Fim do Direito de Matar”, parte 2. Reportagem de Gabriele Oliveira
Sentado na mesa do auditório da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Julival Queiroz de Santana, coronel da PM, afirma: “Nós não tratamos de violência. O que nós fazemos é uso diferenciado, legal e legítimo da força. E, para isso, o Estado nos autorizou’.
A declaração do comandante regional da Polícia Militar surge como resposta aos questionamentos feitos pela população presente na Alesc naquela tarde. A audiência pública realizada em 13 de novembro de 2023 trouxe como segundo ponto de pauta a violência presente nas abordagens policiais nas periferias de Florianópolis.
Mas, para Santana, o próprio conceito de violência policial é equivocado, pois a instituição exerceria o uso de força sob a legitimação do Estado. “No que trata de questões como a violência policial, eu tenho uma discordância técnica nesse sentido. O pessoal usa isso aí de forma indiscriminada na mídia e, de certo modo, de forma bastante leviana”.
Focado na terminologia correta para as ações onde policiais vitimaram jovens em intervenções policiais, Santana não respondeu ao questionamento feito pela advogada Cynthia Pinto da Luz durante a audiência: “Em Santa Catarina, quantos policiais militares foram julgados, punidos e condenados por terem matado pretos, pobres e periféricos?”
A pergunta, feita pela integrante do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, também é o foco central do relatório “Mortes violentas decorrentes da ação policial contra a juventude da periferia do Estado de Santa Catarina”, elaborado pela Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil (AMDH) e parceiros.
O material, apresentado durante a audiência, aponta dados relevantes sobre violações sofridas pela juventude periférica da capital catarinense: nos 14 casos analisados, nenhum policial foi indiciado e investigado pelo Ministério Público. Em todos, as vítimas, jovens negros e pobres, moradores de comunidades do Maciço do Morro da Cruz, foram consideradas responsáveis pela sua própria morte.
Para Cynthia, a postura do comandante Santana durante a audiência reflete o desinteresse da instituição em lidar com o histórico de abuso de poder e impunidade que marca a atuação da polícia catarinense nos últimos anos.
“Foi arrogante e impositiva, na medida em que ignora os números, as estatísticas, os índices das mortes efetuadas pela polícia militar, principalmente em expansão do dito confronto. É corporativista, inclusive, no sentido de se proteger numa política que só gera dor, violência e morte no estado”
A advogada reforça que há toda uma estrutura de impunidade que dá suporte a esta postura, pois, na maior parte dos casos, a morte destes jovens negros e favelados não é sequer devidamente investigada pelos orgãos competentes – é comum que as perícias sejam inconclusivas, pois o local dos supostos confrontos não é preservado pela polícia.
As imagens das câmeras corporais, implementadas pela própria corporação para garantir mais transparência, muitas vezes sequer são solicitadas. Mesmo sem provas concretas de um confronto e mesmo em casos nos quais a própria polícia científica não embasa esta tese, a legítima defesa é sempre tida como verdade.
“É uma evidente conivência, omissão e descaso por parte tanto do judiciário, quanto do Ministério Público. A impunidade é a regra: não há processo, denúncia, indiciamento, não leva a lugar nenhum – em grande parte das vezes, sob a justificativa da falta de provas, da falta de condições de apurar o fato. E não cabe este tipo de justificativa, porque ela justifica apenas a falência do Estado” .
Falta um
Shilaver era filho, neto, irmão, sobrinho, primo, e um amigo amado na comunidade onde cresceu. Dentro de casa, esse amor era demonstrado durante as refeições. A comida sempre foi um símbolo de afeto para toda a família, que se organizava coletivamente para preparar sua alimentação, pois o jovem, paciente renal, tinha uma dieta muito regrada.
Todos os dias, o amor era servido à mesa, do café da manhã ao jantar. Ou melhor, mesas, no plural. Se, de manhã, ia para a sua avó, no almoço, corria para a prima. O jovem negro cresceu assim, andando pelos becos e vielas do Mocotó, sabendo que sempre teria um lugar reservado para ele.
Shilaver Lopes dos Santos faleceu aos 22 anos, sob custódia do Estado, em 30 de novembro de 2019, três meses após ser baleado pela Polícia Militar de Santa Catarina, em uma operação realizada no Morro do Mocotó. Um dos cinco tiros que o atingiram perfurou seu rim, e Shila sangrou por mais de uma hora aguardando socorro médico. No hospital, foi algemado, impedido de ver sua família, passou por seis cirurgias de alto risco e não resistiu.
Os familiares afirmam que a causa da morte foi uma bactéria somada à quantidade de pólvora que ficou em seu corpo. Quando Shilaver se foi, após ter morte cerebral confirmada pelos médicos, o corpo deixado na maca do hospital estava desnutrido. Shila morreu com fome – e, até hoje, seu lugar nas mesas do Mocotó permanece vazio.
“Sempre falta um. Sempre vai estar faltando alguém na tua mesa. Tu está esperando alguém, sabe? Porque a gente já sabia, ‘daqui a pouco ele está aqui, ele vai vir da hemodiálise e vai passar aqui, porque ele precisa tomar um café e descansar’”, relembra um familiar.
Foi em 12 de setembro de 2019.
Quando escuta os tiros, Denise (nome fictício) estremece. Com o coração apertado, corre para o telefone. Liga para todos os parentes, sempre fazendo a mesma pergunta: “Shila tá aí?” Quando o encontra, já é tarde demais. “Ele estava indo almoçar na irmã. Infelizmente, no meio do beco, ele ficou”.
Quando chegou ao local do ocorrido, Denise, assim como os pais de Shila, foram impedidos de se aproximar do jovem. O clima entre comunidade e policiais era de tensão, após moradores constatarem que as câmeras corporais da PM foram ligadas somente após o jovem ser baleado. Em poucos minutos, tropas do BOPE e do Choque chegaram ao Mocotó para dispersar a multidão – utilizando bombas de efeito moral e balas de borracha.
Quatro pessoas foram atingidas pelos disparos – entre elas, familiares de Shilaver. Em entrevista ao Cotidiano UFSC, duas mulheres relataram que foram agredidas por policiais ao tentar se aproximar do pai de Shilaver, que estava passando mal por não conseguir socorrer o filho.
“A gente desceu com um copo de água, então ela tomou um soco do policial. O outro, que estava atrás, atirou no joelho dela. Eu fui colocada na parede, fiquei paralisada”, relata a testemunha.
Além dos adultos, o trauma da violência policial na comunidade atinge também as crianças. Um primo mais novo de Shilaver, de apenas 5 anos, perdeu a voz de tanto gritar de medo – semanas depois, exames constataram um tumor benigno na garganta. Na opinião do médico que o atendeu, a anomalia pode ter sido causada pelo episódio traumático.
Três anos antes da sua morte, aos 19 anos, Shilaver foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas. Durante os dois meses em que ficou detido, só teve acesso à medicação que precisava porque sua família continuou a comprar os medicamentos.
Duas semanas após a Operação que baleou Shilaver e outro jovem da comunidade, cerca de 200 moradores se reuniram no topo do Mocotó, próximo à igreja evangélica na Servidão Dois, para protestar contra a violência policial. A resposta recebida pela comunidade foi o silêncio.
Cerca de 20 policiais militares estavam presentes, a maioria sem identificação na farda – obrigatória por lei. Portando cacetetes, revólveres e fuzis, formaram um paredão humano que se manteve ali por três horas. A tensão só foi acalmada com a chegada de um vereador e um grupo de advogados comunitários que conseguiu dialogar com o grupo de policiais que estava no local. Na época, o episódio só foi coberto pelo Cotidiano UFSC.





As violências sofridas pela família de Shilaver não acabaram no dia em que quatro integrantes dela foram feridos pela PM, nem tampouco depois de sua morte. Todos os 79 dias no hospital foram de conflito. A violência vinha dos funcionários de diversos setores: enfermeiros, médicos, assistentes sociais, agentes penais e seguranças.
A família, impedida pelo Departamento de Administração Prisional (DEAP) de visitar Shilaver, foi posteriormente acusada de abandoná-lo no hospital. Eram necessárias diversas ligações e discussões para poder ter atualizações sobre o estado de saúde do jovem – que muitas vezes foi levado para a UTI sem que a família fosse informada.
No dia de sua morte, mesmo com autorização médica para visita familiar fora do horário previsto, para que pudessem se despedir, os familiares foram barrados por vigilantes do hospital. Na preparação para o velório, a violência do Estado se fez presente novamente – a família precisou ficar horas aguardando a liberação do corpo, que só poderia ser feita pela Polícia Militar.
A dor da saudade e do trauma são carregados até hoje. Toda vez que escuta fogos de artifício – utilizados pelo tráfico para avisar que a PM chegou no morro – Denise paralisa. O som se confunde com tiros, trazendo de volta a dor da perda, que logo se transforma em preocupação: “Tem alguém meu na rua?”
Mesmo após quatro anos, a família teve pouca resposta do Estado sobre as investigações acerca da legalidade da ação dos policiais que balearam Shilaver. O relatório do delegado de Polícia Civil diz não haver indícios suficientes da prática de crime militar. O Ministério Público denunciou a vítima, Shilaver, e não indiciou os policiais, pois estes “agiram para repelir injusta agressão.”
Em 21 de dezembro de 2019, o caso teve baixa definitiva, sendo arquivado pelo MP. Quatro anos depois daquele 12 de setembro, todos os dias, na hora do café, ainda há um lugar vazio na mesa.
A pesquisadora Flávia Medeiros, professora no departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), destaca que apesar de serem os agentes centrais na produção destas mortes, a Polícia Militar é apenas uma das diversas instituições de segurança pública responsáveis pelas vidas perdidas em ações policiais.
Em seus trabalhos, Flávia investiga a “ideologia de matabilidade”, que, como ela descreve, permeia a sociedade definindo quem pode matar e quem pode ser morto. A pesquisadora pontua que a polícia, que age como a “mão armada” do Estado, exerce um monopólio do uso legítimo da força: o poder de produzir mortes legítimas, que serão aceitas pela sociedade.
“A PM tem seu papel, mas a sua função e a sua responsabilidade também estão vinculadas às funções de outros órgãos, incluindo a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o executivo, o próprio governo – além da própria ideologia de matabilidade”.
Para garantir maior imparcialidade dos julgamentos, policiais que cometem crimes contra civis em atividades de segurança pública são julgados pela justiça comum, e não na Militar – responsável por punir crimes funcionais relacionados à hierarquia militar. Isso porque, como reforçam diversas organizações de direitos humanos, a Justiça Militar no Brasil não oferece condições para atender às demandas de responsabilização de militares por crimes cometidos contra civis.
Na prática, na justiça comum, também reina a impunidade. Durante a pandemia de covid 19, uma reportagem do Portal Catarinas revelou que, de todos os casos de mortes de civis em confrontos com a Polícia Militar na capital catarinense ocorridos entre 2016 e 2020, apenas 7% foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público.
“A polícia civil corrobora essa produção de morte por meio de investigações frágeis que não permitem de fato elucidar as circunstâncias de cada caso. E [também o] Ministério Público, que teria obrigação de investigar essas atuações, inclusive como órgão fiscalizador das agências de segurança”, explica Flávia Medeiros.